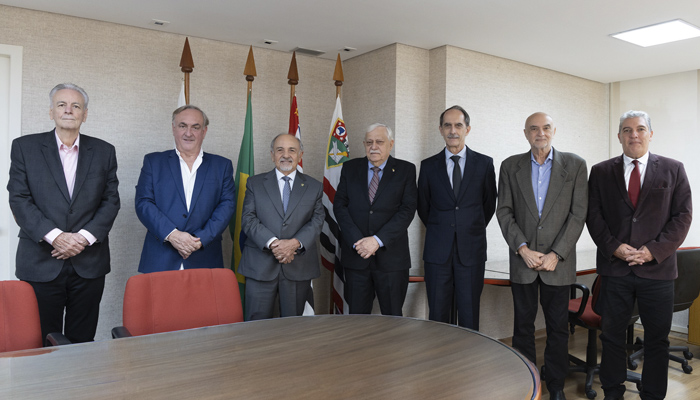Por Gilberto Natalini e Ana Maria Villela Alvarez Martinez
A preservação do meio ambiente não é uma tarefa isolada de governos ou instituições: é uma missão coletiva que começa dentro de cada indivíduo. E é pela via da educação que despertamos essa consciência essencial. Mais do que transmitir informações técnicas sobre ecossistemas, biodiversidade ou mudanças climáticas, a educação ambiental propõe uma verdadeira mudança de mentalidade: uma forma de ver o mundo como um organismo vivo, interdependente e frágil.
Ainda assim, essa transformação não ocorre de forma automática. A educação ambiental só produz efeitos concretos quando vai além de datas comemorativas e discursos genéricos sobre sustentabilidade. É preciso trabalhar nas relações básicas entre sociedade, economia e ecossistemas, e reconhecer que nossas escolhas são moldadas por estruturas maiores, padrões de consumo, ausência de políticas públicas e desigualdade de acesso a meios sustentáveis.
Educar para o meio ambiente é formar cidadãos capazes de compreender que suas decisões, do consumo diário à forma como se relacionam com o território, impactam diretamente o presente e o futuro da vida na Terra. Mas é também estimular o pensamento crítico sobre os sistemas que limitam essas escolhas. Por que o acesso à alimentação orgânica ainda é tão restrito? Por que ainda existe tão pouca integração entre planos ambientais? Essas são perguntas que a educação ambiental precisa enfrentar.
Desde a infância até a vida adulta, a educação ambiental deve ser parte integrante dos currículos, dos diálogos familiares, das práticas sociais e dos valores comunitários. Contudo, um levantamento da UNESCO (2021) mostrou que menos da metade dos currículos escolares no mundo incluem a sustentabilidade como eixo estruturante. No Brasil, esse cenário não é diferente: embora exista previsão legal desde a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999), muitas escolas ainda tratam o tema de forma pontual, desconectado da realidade local e sem articulação interdisciplinar.
Mais do que um conteúdo escolar, a educação ambiental é um compromisso ético com as próximas gerações, além de ser também uma ferramenta política para planejar ações futuras. Um estudo da Universidade de Stanford (2017) identificou que programas bem estruturados de educação ambiental aumentam comportamentos sustentáveis em até 83%. No entanto, o impacto real está vinculado à qualidade da abordagem destes programas, já que ações isoladas, sem continuidade ou conexão com o território, raramente produzem mudanças significativas.
Educar é semear valores. E quem semeia cuidado, colhe futuro. Mas é preciso saber o que se está semeando. Educação ambiental não pode ser sinônimo de moralismo verde nem de responsabilização individual sem contexto. Não basta dizer às pessoas para “fazerem sua parte” se os sistemas de transporte, de produção e de moradia continuam promovendo degradação e exclusão.
Quando educamos para o meio ambiente, não transmitimos apenas informações sobre a natureza. Cultivamos também o respeito pela vida em todas as suas formas, mas também a disposição de enfrentarmos os conflitos éticos, econômicos e políticos que atravessam a crise ambiental. Só assim deixamos de formar espectadores conscientes e passamos a formar agentes de transformação.

Gilberto Natalini é coordenador de Meio Ambiente da AFPESP, médico gastrocirurgião e ambientalista. No setor público destacou-se como secretário do Verde e do Meio Ambiente e secretário executivo de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. Eleito vereador de São Paulo pela primeira vez em 2000, cumpriu o seu quinto mandato até 2020. É autor de 419 projetos de leis e tem 147 leis aprovadas. Suas principais bandeiras de vida são a democracia, o desenvolvimento sustentável, maior equidade social e a moralidade pública.

Ana Maria Villela Alvarez Martinez é coordenadora de Educação e Cultura e ocupante da cadeira nº 1 de Artes da Academia de Letras, Ciências e Artes (ALCA) da AFPESP.